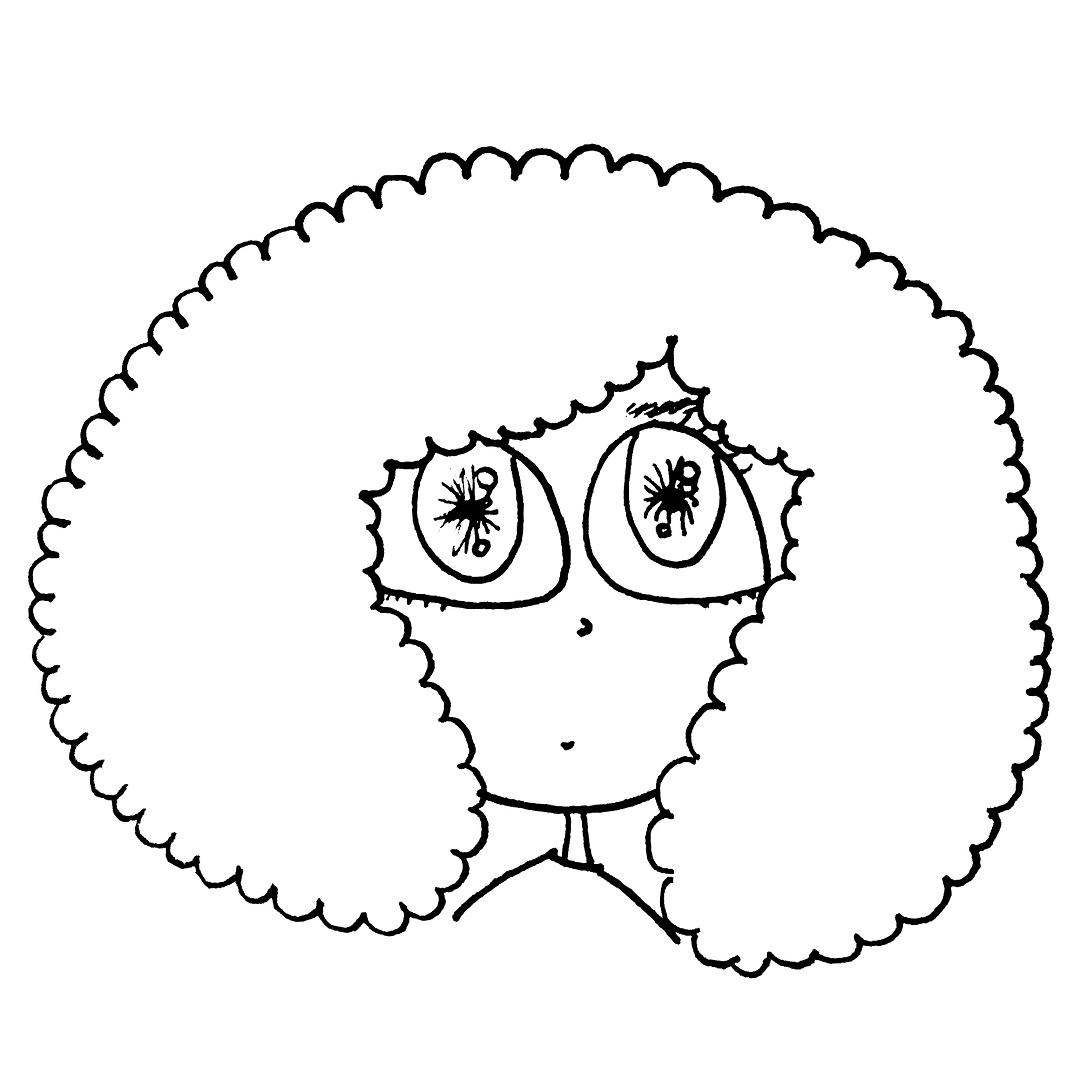
Na crônica desta semana do Mural da Ana Paula: “A Bia só tem cabelo e olho”, de Beatriz Irineu, graduanda em Jornalismo e bacharela em Administração.
Nesta participação especial, Bia nos conta, a partir de uma das frases ouvidas durante a sua infância, as suas marcas e questões de vida. Percorremos o seu universo, a sua identificação com o outro, as interpelações da família e de desconhecidos, além dos seus sonhos e crenças neste mundo. Boa leitura!
– Luiza Ester

“A Bia só tem cabelo e olho”. Essa talvez seja uma das frases mais marcantes da minha infância e era dita pela minha pediatra. A minha pediatra é uma mulher branca, rica e o seu consultório fica localizado em uma das ruas mais chiques de Fortaleza, gosto de chamar esse trecho da cidade de Fortaleza burguesa. Eu escutava essa frase pelo menos uma vez por mês, eu era uma criança doente, possuo até hoje asma e tinha crises fortes de problemas respiratórios. Por muito tempo, eu achava aquela frase engraçada e às vezes levava na brincadeira. Eu tinha cinco anos, não tinha como entender que aquilo era um deboche para o meu cabelo. Mas a minha mãe entendia. Dona Inez (ou Inezinha) sempre fazia questão que a gente usasse nossa melhor roupa e peça íntima para se consultar lá. “Não quero que ninguém pense que não podemos estar lá”, ela amava falar isso enquanto escolhia nossa roupa.
 Desde que consigo me entender por gente, era nesses lugares da Fortaleza Burguesa que eu estava inserida. Estudei em apenas três colégios da minha vida. Em boa parte da minha infância, estudava em uma escola de bairro. Tenho poucas memórias da escola, apenas da enxurrada de atividades que meus pais pediam que eu fizesse. Fiz balé, vôlei, reforço e participava de todas as danças do colégio. Até hoje tem foto minha nessas atividades dentro da escola. Inezinha queria que eu continuasse lá, mas ao mesmo tempo, queria que eu tivesse mais oportunidades porque o meu sonho, quando criança, era ser jornalista. Então, ela logo procurou um colégio grande, daqueles que te preparam para o vestibular, mas não te preparam para a vida. Então, na sexta série, eu mudei de escola e vamos chamá-lo de Colégio 1.
Desde que consigo me entender por gente, era nesses lugares da Fortaleza Burguesa que eu estava inserida. Estudei em apenas três colégios da minha vida. Em boa parte da minha infância, estudava em uma escola de bairro. Tenho poucas memórias da escola, apenas da enxurrada de atividades que meus pais pediam que eu fizesse. Fiz balé, vôlei, reforço e participava de todas as danças do colégio. Até hoje tem foto minha nessas atividades dentro da escola. Inezinha queria que eu continuasse lá, mas ao mesmo tempo, queria que eu tivesse mais oportunidades porque o meu sonho, quando criança, era ser jornalista. Então, ela logo procurou um colégio grande, daqueles que te preparam para o vestibular, mas não te preparam para a vida. Então, na sexta série, eu mudei de escola e vamos chamá-lo de Colégio 1.
No Colégio 1, eu estudava à tarde, tinha 40% de desconto porque na seleção eu tinha ido muito bem. Desde os primeiros dias de aula, minha mãe disse que eu não podia dizer para ninguém que tinha esse desconto. Eu tinha 11 anos, eu simplesmente aceitei. Todas as atividades extracurriculares que surgiam, eu era pressionada a participar pelos meus pais. Lá, tinham outras meninas que pareciam comigo. Quando paro para lembrar, tinha mais de duas, talvez tenha sido um dos lugares “mais pretos” que já passei na minha vida. Acho que eram cinco meninas no total. Eu e mais duas não expressávamos muita feminilidade o que nos fez ouvir por quase dois anos a palavra que começa com “S” frequentemente. Eu não aguentei. Sem contar para minha mãe a verdadeira história, eu optei por sair.
No meio do meu primeiro ano no Colégio 1, minha família resolveu vender nossa casa no bairro Conjunto Ceará e resolvemos ir morar num apartamento menor na Parangaba. Lá, logo eu fiz amizade. Juntas eramos um squad formado por cinco meninas. Nessa época, influenciada pelo canal MTV, pelas minhas amigas brancas, eu decidi que eu queria ficar “bonita”. Eu tinha apenas 11, eu deveria ter entendido que eu precisava brincar e que eu era bonita. Em julho de 2006, eu implorei para alisar meu cabelo. Eu chorava todos os dias para isso. Minha mãe à princípio não quis deixar, ela disse que eu era muito nova, mas, como chata e determinada que sempre fui, eu consegui que ela me levasse a um salão para fazer um relaxamento básico. Esse foi só o começo de muitos outros traumas.
Mesmo com esse relaxamento básico e mais leve, meu cabelo, que é naturalmente cacheado (3C, meninas), não aguentou o produto “fraco” e não ficava liso, apenas um pouco mais baixo. Uma impressão de pouco cabelo. Afinal, eu só tinha cabelo e olho. Quando saí do Colégio 1, estava decidida a mudar minha vida e nunca mais sofrer bullying porque eu iria me tornar o que a sociedade esperava de uma menina de 13 anos. Fiz uma progressiva que nunca esqueci o cheiro do lugar. Também era na Fortaleza Burguesa e a dona era amiga da minha tia. Minha mãe disse que só ela sabia fazer nossos cabelos ficarem baixos. E era verdade. Afinal, a gente se parecia um pouco.
Para Inezinha, eu implorei um novo guarda-roupa, um celular da Sony, idas diversas ao salão e maquiagem. Eu queria ser blogueira. Eu passava 24h por dia no site Garotas Estúpidas, que não tem nada de errado com ele, só não tem ninguém parecido comigo. Nessa época, no Colégio 2, eu era outra Bia. Nem só olho eu tinha mais, vivia procurando na internet formas de diminuir o olho com maquiagem, o lápis de olho me salvou. Eu fiz tudo isso, mas não dá para mudar a cor. Nessa escola, meu desconto era menor e também quase ninguém sabia, só as minhas amigas próximas. Meu apelido carinhoso era favela. Eu andava com uma escova profissional na bolsa para ajeitar o cabelo quando a raiz estava crescendo, uma dia tiraram da minha bolsa e mostraram para todo mundo. No Colégio 2, algumas amigas me chamavam de preta, muitas vezes de forma carinhosa, se referindo a música dos Novos Baianos. Em outros momentos, quando eu errava algo, eu escutava delas a frase “tinha de ser preta”. Em diversas fotos, eu tentava clarear o máximo possível a minha cara ou até mesmo comprar uma base de um tom abaixo do meu para parecer com meu grupo de amigas. Lá só tinha uma menina parecida comigo. Éramos amigas e por muito tempo fomos próximas sem nada em troca. Era só algo bom dentro da gente. Ela também alisava o cabelo.
Eu segui nessa jornada e aos poucos fui sabendo mais o que eu de fato gostava de fazer e de ser. Aquele sonho de ser jornalista se definhou porque não acreditava mais na imprensa, tinha medo de não ser boa e acreditava que era melhor ser medíocre. Eu não era uma Zileide Silva ou Glória Maria. Eu sou a Bia, do cabelo e olho. Então, eu recolhi os meus sonhos de criança, e desisti.
Aos dezesseis anos entrei no curso de Administração da Universidade de Fortaleza. Eu era a única da minha sala. Tinha outro menino também. Eu lembro que ele trabalhava no Campus de tarde e à noite para conseguir pagar o curso. Durante os cinco anos de curso, acho que conheci quatro pretos e não tenho certeza se eles se identificam como tal. Até eu não me considerava negra. De parda a biracial, eu passei anos com uma confusão mental de raça. Meu pai é branco de ficar vermelho com qualquer sol e minha mãe é preta do meu pai chamá-la carinhosamente de morena jambo (isso aqui em casa não é racista, mas não use). Eu não lembro de nenhum professor que parecia comigo. Nenhum. Eu lembro da secretária do Programa Tutorial Acadêmico, Neila, que hoje posso chamá-la de amiga. Eu lembro de vê-la, mas ter muita vergonha de falar com ela. Lembro também de olhar de longe as pessoas do curso de comunicação e encontrar dois pretos conversando, mas ter vergonha de me aproximar.
Na época desse curso, eu me envolvi em uma organização voluntária bastante diferente. Para participar dela, de vez em quando você tinha que fazer umas viagens, dançar umas coreografias e gritar por aí no meio da Universidade Federal do Ceará. Bom, eu entrei. Era um pouco elitista? Sim. Vi muita gente saindo porque as pessoas marcavam encontros em cafeterias. Algumas vezes, eu inventei uma doença para faltar esses encontros caros. Outras, eu fui. Nela, eu tive oportunidade de viajar para alguns países e estados do Brasil. Saí da organização em 2015, tendo aprendido muito, mas com várias críticas. Todos os amigos que fiz nela e que pareciam comigo, até hoje, eu falo com eles. A amizade perdura até hoje. Das pessoas que conheci lá e são pretas, eu devo contar dez ao todo. Essa organização está presente no Brasil quase todo.
Entrei pro mercado e sempre ouvi que cabelo profissional é cabelo liso. Trabalhei em uma empresa de capital misto. Eu trabalhava numa sala grande, creio que tinha umas 40 pessoas lá. Destas, eu tive a sorte de trabalhar ao lado de uma menina que parecia comigo e ser chefiada por outra que também pareci. Não lembro se passei por algo lá, mas lembro de me sentir muito preta naquele lugar. O prédio inteiro exalava branquitude, channel nº5 e Fortaleza Burguesa. Eu ia trabalhar normalmente com minhas melhores roupas.
Ainda na administração, no meu último ano, em 2016, eu conheci o Diretório Central dos Estudantes e lá tinha muita gente parecida comigo. Eu fiz uma amiga lá que ela salvou minha vida me fazendo assistir Os Parças. Íamos ao Benfica no dia 09 de março de 2018, dormi assistindo o filme e escapamos de um dia pavoroso em dos bairros mais quistos por mim. Essa pessoa me perguntou essa sexta-feira (05) se ela era preta. Eu respondi que não tinha como saber por ela, mas que ela deveria entender mais sobre a vida dela. Ela meio que disse que aquilo era um teste comigo porque uma outra amiga dela não acreditava que ela poderia ser preta pois o cabelo dela é quase liso (2B). Bom, eu falei para ela que fiscal de negritude eu tenho desde que nasci. A gente riu e se abraçou virtualmente.
Neste mesmo ano, eu entrei em um relacionamento com uma pessoa branca. Nunca me senti tão pobre e tão preta. Na minha vida toda eu me sentia assim, mas eu sentia que aumentava quando estava com a pessoa ou perto da família dela. Em um determinado churrasco, eu estava falando que me considerava uma mulher negra. Uma pessoa dessa família disse que eu não era. Ela no alto de seu olho verde e do seu cabelo loiro pode me classificar. Em outro momento, fui desconvidada para uma comemoração de aniversário porque achavam que eu não poderia pagar o lugar.
Foi mais ou menos nessa época que eu disse “chega!”. Eu precisava deixar meu cabelo natural aparecer, eu precisava me conectar mais ainda para saber rebater os fiscais de negritude e não ficar calada. Não era pelos outros, era um processo de conexão com o meu verdadeiro eu e meus ancestrais. Cabelo é herança, descendência e orgulho. Recentemente, o ator Babu Santana falou a seguinte frase “O black é a coroa e o pente é a libertação”, na primeira vez que ouvi, senti um impacto indescritível. Eu lembrei de todos os momentos no processo de transição, da primeira vez que saí com meu cabelo natural (e morri de medo de me acharem tosca e feia) e do momento do corte final. O meu processo de transição durou um ano e meio. Eu passei dez anos alisando a cada seis meses.
Na minha vida toda, eu tive que ouvir que no lugar aceita cartão, ou que o produto é barato, ou até mesmo que “a gente divide, não se preocupa”. Isso tudo é até normal quando você pergunta se aceita cartão, se o produto é barato ou até se eu quero dividir. Cansei de sair para jantar com amigos e a conta nunca vir parar na minha mão. Mas eu aprendi com Inezinha que a gente toma a conta e paga (se a gente puder, claro). Cansei de ir ao shopping com mamãe e não atenderem a gente ou seguirem a gente na loja. Minha mãe sempre achou um absurdo eu andar de chinelo, principalmente no shopping. Ela diz que é “pedido para ser confundido”.
É muito díficil ser desvalidado por ter “traços brancos”. Não tenho a boca grande, nem o nariz largo. Mas eu tenho um cabelo, uma cor, uma descendência e uma voz. Por muito tempo, eu não sabia quem eu era e tinha vergonha de ser assim. Não sabia que eu poderia ser bonita, ser amada e ser respeitada. Quando a gente nasce preto, ninguém acredita que somos capazes de nada. A gente começa então a cair no discurso deles. E quando a gente cai nesse discurso, a gente não realiza nossos sonhos.
Em 2018, por incentivo da minha mãe, eu resolvi realizar o sonho de fazer jornalismo. Logo no primeiro semestre, eu encontrei minha cara metade. Uma professora preta. Ela acredita em mim mais até que eu. Nesse mesmo semestre, nos primeiros dias de aula, eu conheci uma pessoa que parecia comigo. Foi conexao no primeiro olhar. Em novembro, eu conheci mais uma. A gente se conheceu quando ela disse a seguinte frase pra mim “Mas é claro que tu é negra”. Eu contava à um amigo sobre a fiscal de negritude que tinha me abordado naquela semana. E eu me apaixonei por uma professora branca que tenta ao máximo estudar as pessoas que se parecem comigo.
O segundo semestre do curso foi um pouco complicado. Eu tive coragem de ter um penteado que sempre sonhei: tranças rosas. Uma professora publicamente me chamava de trancinha. A mesma professora também duvidou que eu lia jornal. As memórias mais gostosas da minha infância era lendo o O Povo e o Diário do Nordeste. Somos assinantes desde os anos 1990. Ela também disse que os negros se vitimizam muito. Oras, a gente não pode nem ficar em casa em paz. João Pedro tinha 14 anos e foi sequestrado. A Aghata tava no balé. No mesmo tipo de dança que eu fazia quando tinha a idade dela. O Rafael Braga está preso até hoje por causa de uma garrafa de Pinho-Sol. Mas gente se coloca no lugar de vítima. No mesmo semestre, eu me aproximei de outra menina parecida comigo. Ela falava que tinha dúvidas sobre sua cor. Essa minha amiga foi atestada por uma racista: “pois eu acho que você seja negra”. O branco sempre nos conhece. Eles sempre sabem. Se é para te elogiar, falam “seu cabelo e sua cor são lindos”. Se é para te vilanizar, eles falam “nossa, que menina barraqueira, invejosa e arrogante” – se você apenas não deixa pisarem é isso que você recebe.
Desde o começo do curso, de longe, eu admirava uma professora. Eu olhava para ela e queria ser ela também. Mas tinha vergonha de falar qualquer coisa com a própria. Ela é preta que nem eu. Ela ocupou os espaços que um dia eu também quero ocupar. Hoje, ela acredita em mim. Me dá conselho e tenta me ajudar. Parece que quando um vence, todo mundo também vence.
Hoje, eu sou grata e tenho raiva, mas sou mais consciente. Eu tinha raiva o tempo todo. Eu tenho raiva que nossos irmãos e irmãs que parecem pela cor, mas nem sempre parecem de verdade, estão morrendo diariamente por bala perdida, por Covid-19 e por tristeza. Os irmãos e as irmãs estão morrendo em casa, confundidos com “alguém parecido” no imaginário racista daquele que acusa. Os irmãos e irmãs estão morrendo de Covid-19 porque não há uma leito no hospital. Os irmãos e irmãs estão morrendo de tristeza, de banzo e de depressão porque nem todo mundo teve a sorte que eu tive de ter aprendido a lidar com isso. E eu quero ajudar com a minha escrita. O Emicida canta “Tudo que nóis tem é nóis” e eu quero que todos vocês acreditem nisso.

